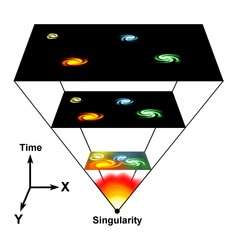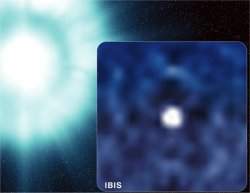Maria Antonieta - 85min
Santo Agostinho
- A Queda do Império Romano - 102min
A Ciência como Ciência do Sagrado - 35min.
Do ser da pessoa à doença existencial
A vida é um verdadeiro mistério! Quando pensamos em
todas as condições necessárias para o seu aparecimento na terra, quando
tentamos evocar as probabilidades da sua eclosão e do seu
desenvolvimento, permanecemos sonhadores. Mas a vida é apenas um dos múltiplos fenómenos que nos fazem perder o pé, se de repente a nossa atenção se vira para a consciência de si que caracteriza o ser humano.
O ensaísta Bill Bryson, no seu livro A Short History of Nearly Everything, começa a sua análise ao sublinhar a remotíssima probabilidade do surgimento do eu, no
termo de uma evolução de que o espírito humano não consegue
representar a duração; com efeito, a quantidade de zeros que constituem
os milhões de anos da existência da vida na terra deixou longe atrás de
si as capacidades da imaginação, para ceder o passo a um conhecimento
meramente racional.
E se logo a seguir pensamos na fugacidade da
existência de cada um de nós, o contraste entre os milhões de anos da
vida na terra e os setenta, oitenta ou, na melhor das hipóteses,
noventa anos que nos são reservados, tornam ainda mais impressionantes a
série desses contrastes.
O filósofo hegeliano francês Pierre-Jean Labarriere
deu por título a um livro de poesia que escreveu «Mille ans comme un
jour», retomando parcialmente o verso de um salmo bíblico (para o
Senhor, mil anos são como um dia, e um dia como mil anos). E após o
contraste entre a vida na terra e a consciência humana,
temos ainda o mistério do espírito humano, com todas as suas
realizações que se elevam por cima das necessidades mais básicas da
sobrevivência.
Do ponto de vista da sua duração, as realizações
objetivas, materiais e civilizacionais do espírito desafiam os séculos,
mas será que daqui a cem mil anos ainda restará qualquer coisa das
mais belas catedrais, basílicas e palácios, das mais extraordinárias
obras de arte e dos livros mais universais das nossas mais preservadas
bibliotecas? Perante o oceano do futuro desconhecido, a nossa atenção
prefere voltar-se para a nossa existência singular,
por mais limitada que seja; porque é nossa, e é, no fim de contas, a
única na qual se joga hoje, para cada um de nós, o futuro da humanidade e
na qual mergulham as raízes da nossa presença, tanto corpórea como
pessoal.
1. Do ser da pessoa...
o olhar que tenta cingir-se à sua existência descobre
rapidamente uma camada de estratos sedimentados nos alicerces da
própria vida. É aqui que podemos, seguindo uma sugestão da magnífica
meditação de Pierre Teilhard de Chardin, no seu livro O meio divino, descobrir,
mesmo fora de todo o seu contexto religioso, que o ser humano é feito
de um entrelaçamento de atividades e de passividades.
As atividades que nos constroem provêm dos nossos
projetos que conseguimos realizar, das iniciativas que contribuem para a
edificação de um mundo mais humano. Mas não há atividades sem
passividades e, se olharmos com atenção, o campo das passividades é
consideravelmente mais extenso do que o reino das atividades.
As passividades abrangem tudo aquilo que nos constitui
sem a nossa intervenção e que recebemos, não à maneira de um
sofrimento, mas como base involuntária
da nossa identidade. «De facto, as duas partes, ativa e passiva, das
nossas vidas são extraordinariamente desiguais. Nas nossas perspetivas,
a primeira ocupa o primeiro lugar, porque nos é mais agradável e mais
percetível. Mas na realidade das coisas, a segunda é, sem dúvida, a
mais extensa e a mais profunda» (pp. 72-73).
No seio das passividades, isto é, tanto na matéria do
nosso corpo como nas condições físicas da nossa identidade mental e
psíquica, encontram-se dois grupos distintos, as passividades de
crescimento e as passividades de diminuição. Cada um de nós que esteja
atento a este olhar interior sobre si mesmo pode compreender que o
crescimento físico, psicológico, assim como espiritual, é só possível
porque recebemos predisposições que descobrimos à medida que se nos
apresentam em virtude dos frutos do nosso agir.
Ouvimos dizer que as passividades de crescimento
provêm dos dons da natureza, desta natureza pródiga que nos providencia
tudo aquilo que permite a construção progressiva da nossa identidade
pessoal. Mas na outra vertente, simétrica, surgem as «passividades de
diminuição», que já fisicamente contribuem para o meu declínio
irremediável, irreversível e que desemboca na morte, com o meu regresso
aos elementos isolados e constitutivos da matéria universal.
Assim, diz Teilhard de Chardin, «recebo-me muito mais
do que me faço. (...) Em último lugar, a vida profunda, a vida
«fontal», a vida nascente, escapam-nos absolutamente» (p, 76).
«Humanamente falando, as passividades de diminuição internas formam o
resíduo mais negro e mais desesperadamente inutilizável dos nossos
anos» (p. 83).
Contudo, a nossa liberdade existe, não a podemos negar,
e o seu campo de intervenção é total no ângulo agudo das suas
possibilidades limitadas. Ou, para o dizer de outra maneira, a
liberdade é finita, enraizando-se num mundo inescrutável de condições
passivamente recebidas e que solicitam a nossa livre adesão. Eis o
momento importante: a nossa adesão, o nosso consentimento às limitações
é imprescindível, mas livre e não obrigatório; se não lha damos, nada
muda objetivamente, mas subjetivamente a existência corre o risco de se
nos manifestar como absurda. É por isso que o exercício saudável da
liberdade exige o consentimento aos seus próprios limites.
Blaise Pascal
Na sua obra filosófica de 1990, Paul Ricoeur propôs
como centro da sua reflexão sobre o ser humano a expressão: «o homem
simultaneamente agente e sofrente», ativo e sofredor. Poder-se-ia
confrontar esta ideia com o famoso texto de Pascal, escrito à volta de
1659, três anos antes da sua morte. «o que é o homem na natureza? Um
nada relativamente ao infinito, um tudo relativamente ao nada, um meio
entre nada e tudo. Infinitamente afastado de compreender os extremos, o
fim das coisas e o seu princípio são para ele invencivelmente
escondidos num segredo impenetrável, igualmente incapaz de ver o nada
de onde foi tirado, e o infinito no qual está mergulhado» (Pensées, em Oeuvres completes, La Pléiade, p. 1107).
Apesar dos extraordinários progressos da medicina,
realizados principalmente neste último meio século, esta afirmação de
Pascal ainda está plenamente atual. Talvez toda a reflexão sobre o ser
humano que sofre de uma doença grave sinta mais do que nós o sentido
deste pensamento, que Paul Ricoeur incorporou em 1960 no primeiro
capítulo de um dos seus livros (L'homme faillible), capítulo intitulado:
«O patético da "miséria"» e longamente comentado do ponto de vista
filosófico.
2. ... À doença existencial
Para nós, «o patético da miséria» está no horizonte de
toda a reflexão sobre o sofrimento humano. Mas quem poderá ter as
palavras mais justas quando se trata do sofrimento? A este propósito,
vale a pena introduzir uma breve anotação prévia. A filosofia tenta
refletir sobre a experiência vivida, mas, para este efeito, ela tem que
adotar uma certa distância relativamente à realidade.
Com efeito, quando queremos ter uma visão global de uma
paisagem, o nosso olhar não pode aproximar-se excessivamente de um
detalhe particular, sob pena de perder o sentido das relações entre as
suas diferentes partes. Do mesmo modo, a filosofia convida-nos a não
fixar uma experiência única e particular, mas a recuar para perceber
melhor o sentido conceptual que subjaz a esta experiência que procuramos
compreender.
Em contrapartida, com esta distanciação a filosofia
afasta-se do caráter único, vivo, das experiências concretamente
vividas. Encontro um exemplo deste relacionamento na maneira de falar do
sofrimento da doença grave nas palavras do Cardeal Pierre Veuillot,
arcebispo de Paris de 1966 a 1968, e que nesse ano morreu de leucemia.
Durante a sua doença, teve com os Padres o discurso seguinte:
«Nós sabemos fazer belas frases sobre o sofrimento. Eu
próprio falei dele com entusiasmo. Digam aos Padres para não dizer nada
sobre ele: ignoramos o que ele é e chorei com ele» Com esta frase ele
quis em primeiro lugar exprimir a diferença abissal que há entre a
vivência pessoal do drama da doença e a linguagem teórica a seu
respeito.
Mas será que o sofrimento é absurdo, que proíbe deste
modo toda a espécie de linguagem e obriga ao silêncio? Apesar de termos
consciência da diferença abissal inerente ao diálogo entre o doente e os
seus acompanhantes, podemos dizer que não poderíamos de modo nenhum ir
em auxílio dos que sofrem se nos mantivéssemos totalmente silenciosos ao
seu lado.
Com efeito, entre os seres humanos, a palavra é ativa,
pode ser e é criadora de luz e de relação. As grandes feridas morais vêm
muitas vezes de palavras que cortam, mas as grandes alegrias ou
reconciliações surgem também de palavras que têm a arte de criar vida,
de ser portadoras de afeto e de abrir novos caminhos para o futuro.
Neste sentido, também os doentes são ávidos de palavras de compreensão,
em todos os sentidos do termo, desde que essas palavras não sejam dadas
do alto de uma verdade teórica e meramente abstrata. Com efeito, apenas a
linguagem que consegue uma aproximação respeitadora, marcada pelo signo
da empatia, deve ter a capacidade de alcançar o coração do doente
aquém, dentro e além do seu sofrimento. Mas qual será esta linguagem?
A questão que volta inevitavelmente à superfície gira
entorno ao sentido; por exemplo, terá o cancro sentido, além do sentido
óbvio de destabilizar física, psíquica, existencial e emotivamente o
doente?
Pierre Teilhard de Chardin
A primeira resposta a dar é que, em si, o sofrimento não tem
senão um sentido negativo; ele é, na linguagem de Teilhard de Chardin,
uma passividade de diminuição. Contudo, não estamos longe de compreender
que a questão deve ser posta de outro modo. Não adianta muito tentar
saber qual é, a priori, o sentido do sofrimento, mas mais adequadamente
como é que o vamos encarar, qual será a resposta existencial e concreta
que lhe vamos opor. Como é que é vivido? A esse respeito, quem se lembra
do pequeno livro Oscar e a Senhora cor de rosa, de Éric-Emmanuel
Schmitt, percebe imediatamente a diferença entre uma linguagem meramente
teórica que fala da doença e o diálogo capaz de pôr vida onde não se
está à espera de a ver surgir.
3. As reações possíveis
A perspetiva inverteu-se; em vez de perguntar
abstratamente se a doença grave tem sentido, é a nossa capacidade de
resposta que constitui o desafio principal. E a questão existencial é
precisamente essa: como é que reagimos, não apenas ao anúncio de uma má
notícia, mas durante as fases ulteriores em que no decurso da doença
estamos submetidos a tratamentos.
O problema complica-se aqui porque cada pessoa terá a
sua maneira de viver a doença; não há regras que mandam nesses casos
eminentemente singulares. Os conselhos podem ser dados, mas quem os
recebe irá necessariamente ou rejeitá-los liminarmente ou deixar-se à
sua maneira inspirar por eles.
Contudo, autores como Elisabeth Kübler-Ross conseguiram
discernir padrões psicológicos das reações existenciais. Não é preciso
lembrar em pormenor as cinco fases que discerniu no seu estudo Death and
Dying, ao analisar as reações dos doentes do foro oncológico: a negação
(«não é verdade, não pode ser!»), a revolta «porquê precisamente eu, o
que é que fiz para ter esta doença», a negociação («se fizer regime e
seguir os tratamentos, vai correr bem. Vou rezar e devo curar-me!»), a
prostração e depressão («não há nada a fazer; acabou-se tudo»), a
aceitação («não vale a pena irritar-se, é mesmo assim e é melhor
aproveitar o tempo que resta!»).
Ela sublinha que nem todos os doentes atravessam todas
as fases e que não é raro saltar uma ou várias dessas fases ou
imobilizar-se numa delas. No que me diz pessoalmente respeito, penso
que passaria efetivamente por cada uma dessas fases. Mas queria aqui
permanecer no âmbito do contraste entre a segunda e a última fase,
entre a revolta interior e a aceitação. Com efeito, do ponto de vista
não apenas psicológico mas existencial, são esses os desafios mais
agudos da reação na doença oncológica.
A revolta é sempre possível e há situações que, vistas
de fora, nos aparecem tão trágicas que suscitam em nós uma rebelião,
assim como uma aversão contra todas as teorias que nos falam do sentido
e da grandeza da existência humana. E este sentimento de absurdo não é
vivido apenas por pessoas que assistem passivamente ao desenvolvimento
da doença, mas dos que põem todas as suas forças para a combater:
médicos, enfermeiros, outros agentes de saúde, bem como familiares e
acompanhantes.
La peste de Albert Camus é, de certeza, um
dos exemplos de revolta contra o absurdo mais paradigmáticos que a
literatura nos ofereceu. Reciprocamente, a pura «aceitação » está longe
de se identificar com a expressão de uma resignação meramente passiva
diante da doença. Com efeito, tanto a revolta como a aceitação são
atitudes profundamente espirituais, no sentido em que comprometem a
dimensão espiritual do ser humano. O animal pode sofrer e defender-se,
mas a sua reação não chega ao nível da espiritualidade. Aliás, esta
dimensão espiritual vivida quer pelos doentes quer pelos agentes da
saúde é atualmente objeto de estudos cada vez mais diversificados nas
teses de ética e bioética no seio das instituições académicas
portuguesas.
O que é a espiritualidade?, poder-se-á perguntar. Já
tive a oportunidade de apresentar em outros contextos elementos de
resposta a esta difícil questão, mas queria aqui limitar-me a comentar
uma afirmação de natureza geral.
A aceitação consciente e lúcida das «passividades .. e a
sua integração subjetiva é talvez um dos momentos de maior atividade
interior da existência humana. Esta verdade vale não apenas quando as
passividades são superáveis, por exemplo quando boas perspetivas de
cura se perfilam no horizonte da doença, mas talvez sobretudo quando se
torna mais premente a consciência da iminência da morte.
Neste sentido, aceitar a própria morte quando se está
confrontado com ela é a maior atividade interior no seio da maior
«passividade de diminuição», Esta aceitação pode então assumir várias
formas; uma delas é a compreensão, que podemos caracterizar como
altruísta, da morte: se não morresse, se ninguém dos vivos
desaparecesse, a terra acabaria por não poder tomar conta de novas
vidas humanas.
Assim, a nossa morte é também um serviço em proveito
das gerações futuras, serviço que, espiritualmente, somos chamados cedo
ou tarde a integrar na nossa compreensão da existência. Isso, com
certeza, não «explica» adequadamente o sofrimento que precede a morte. E
será que existe uma explicação para este sofrimento? De todo o modo,
não é em poucas linhas que se pode levantar esta temível questão, mesmo
se longas análises acabam quase sempre por exprimir uma grande
perplexidade ou dúvida diante das respostas que se queriam
convincentes.
Que me seja permitido, contudo, no termo desta
comunicação, evocar de modo brevíssimo a interpretação religiosa e
especificamente cristã do sofrimento e da morte. Lembremos, entre
parênteses, que o que se entende por espiritualidade é muito mais vasto
que o campo da religião; isso não impede que a fé vivida de modo
consciente e autêntico se integre genuinamente no campo do «espiritual»
em geral. Aliás, numerosos estudos já mostraram que, de facto, a
abordagem da morte é muitas vezes mais pacífica e pacificadora quando é
vivida no ambiente de uma fé religiosa, qualquer que ela seja.
Lembremos previamente um dado importante; a fé cristã
nunca é uma evidência, não é um projetor que ilumina todo o caminho
aquém e além da morte, mas é a luz suficiente para que se possa dar, até
à morte, o passo seguinte para a frente. Por outro lado, a fé cristã
enraíza-se na confiança num Deus que é Amor, que entra em diálogo com o
ser humano, deixando-lhe contudo a sua liberdade.
É tão verdade que o Deus da revelação cristã admite que
o crente se queixe contra ele, lhe suplique para ter uma explicação,
como se pode já ler no extraordinário livro de Job, do Antigo
Testamento, no qual Job exige entrar numa disputa quase jurídica com
Deus, antes de aceitar finalmente, face à manifestação da transcendência
divina, que não tem a capacidade de compreender o «porquê» do
sofrimento.
No fim de contas, a resposta da fé cristã à questão do
sofrimento e da morte é predominantemente prática e não teórica: esta
resposta é o Cristo na cruz. Se a existência terrestre de Jesus Cristo é
a mais genuína revelação daquilo que Deus é e do modo como se comporta
com o ser humano, então a conclusão impõe-se: o nosso sofrimento e a
nossa morte mergulham no próprio mistério da transcendência divina.
É aquilo que, depois da morte de Cristo, São Paulo e os
apóstolos perceberam, não ao exaltar o sofrimento pelo sofrimento, o
sacrifício pelo sacrifício, mas ao propor que a «aceitação» ativa do
sofrimento e da morte é também uma maneira de entrar mais profundamente
no mistério de um Deus que é Amor.
Um Deus amor, replicaram outros! Como é que um Deus
amor pode permitir tantas catástrofes e tantos sofrimentos singulares e
coletivos? O crente também não tem nem recebe uma resposta teórica;
contudo, a especificidade da sua resposta é que ele mantém viva a sua
confiança em Deus, apesar de todo o mal e de todo o sofrimento do mundo.
Esta resposta acredita que Deus tem outros trunfos e outros meios que
nos superam totalmente. Por isso, o crente espera que, na própria morte,
ele chegue a perceber por que motivo não podia perceber.
Num sentido novo e mais denso ainda, uma afirmação
acima expressa mostra toda a sua pertinência: a aceitação da máxima
passividade torna-se a máxima atividade interior. Nela, com efeito, o
crente oferece a Deus a única coisa que este não lhe pode impor, isto é:
fazer o dom da plena confiança, além de todas as aparências e até
dentro da sua angústia de morrer. Não deve ser fácil aceder a este nível
de fé, mas felizes os que o alcançam - e feliz seria eu se, na eventual
e devida altura, o conseguisse. Esta fé, que para os não-crentes não
pode aparecer senão como autossugestão ou mera projeção de uma mente
humana pacificadora, é vivida e interpretada pelo crente como o dom de
uma iniciativa que o supera.
E termino com as palavras do início: a existência
humana, nas suas facetas visíveis e invisíveis, é mesmo um verdadeiro
mistério...
Michel Renaud
Professor catedrático de Filosofia (jubilado) da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
Fontes:
http://www.snpcultura.org/do_ser_da_pessoa_a_doenca_existencial.html
Licença padrão do YouTube